Revista
A internet por trás do véu
Como as mulheres muçulmanas estão usando a web para garantir seus direitos e quebrar estereótipos
8 min de leitura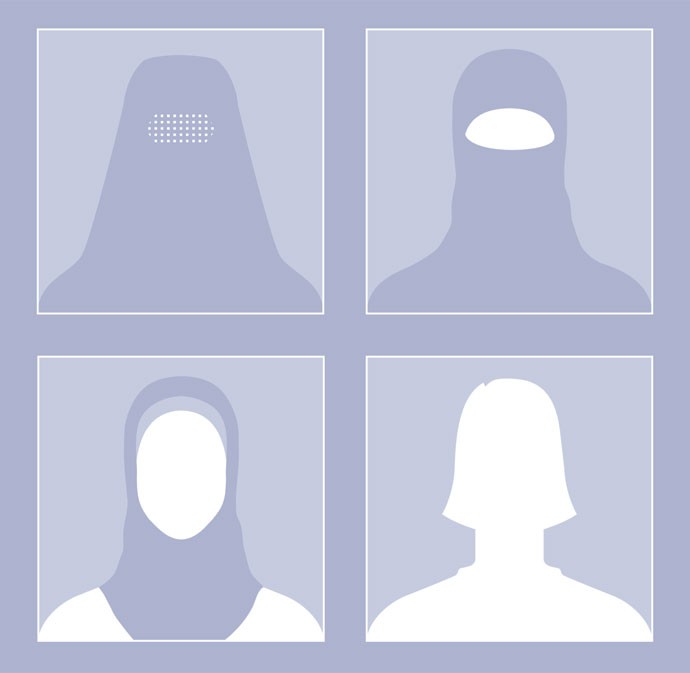
(Foto: Gabriela Oliveira)
Com apenas 11 anos, Nada al-Ahdal, do Iêmen, parecia condenada ao destino de milhões de jovens mulheres em países muçulmanos: o casamento arranjado. Mas, contrária à decisão dos pais, ela decidiu fugir de casa para evitar o enlace. Gravou um vídeo denunciando a situação que em apenas dois dias foi visto por mais de 5,6 milhões de pessoas no YouTube. Mesmo que pouco tempo depois tenha passado a ser questionado, com denúncias de que a família da menina já teria recusado a proposta de casamento antes mesmo de ela virar uma celebridade, o episódio iniciou um debate sobre a liberdade das mulheres no mundo islâmico.
A história, que ganhou o mundo em julho de 2013, lançou luz sobre como a internet tem sido usada pelas muçulmanas para se fazer ouvir. Elas querem respeito, segurança, manter contato com amigos e familiares, correr atrás de carreiras e usar a rede como ferramenta de divulgação. Alguns exemplos mostram que estão conseguindo.
Dos 2,8 bilhões dos usuários da internet no mundo, 1,5 bilhão são homens, segundo a Comissão de Desenvolvimento Digital da ONU. A disparidade é ainda maior entre os muçulmanos. Cerca de 75% dos smartphones no Egito, por exemplo, estão nas mãos do sexo masculino. Para Ann Mei Chang, executiva com passagens pelo Google e pelo Departamento de Estado norte-americano, a tendência é a disparidade aumentar. “Em algumas regiões há a preocupação de que o acesso a telefones celulares ou à internet leve as mulheres à promiscuidade”.
Um dos grandes desafios é lidar com os conservadores, mas existe algo que as une. “As mulheres muçulmanas estão determinadas a criar um presente, uma história que não seja contada pelos homens. Elas querem ser independentes, cada uma à sua maneira”, disse a GALILEU Hera Hussain, uma jovem empreendedora do Paquistão e criadora da Chayn, organização paquistanesa que oferece auxílio a mulheres islâmicas vítimas de agressão.
Representante da nova geração de mulheres de fé islâmica, Hera sempre foi fã de tecnologia. Começou a flertar com o empreendedorismo ao estudar psicologia e economia na Universidade de Glasgow, na Escócia, fazendo parte de diversas startups. “Foi quando eu percebi que queria trabalhar com marketing social ou empresas que usam a tecnologia para causas sociais”, explica. Durante as manifestações no Egito, em 2010, conduzindo uma pesquisa sobre a importância do Twitter para os participantes, ela se deu conta do poder da internet. “Fiquei fascinada em ver as blogueiras egípcias usando as redes sociais para discutir assuntos tabus e documentar casos de abuso sexual”. Foi então que nasceu a Chayn.
Um estudo da Fundação Thomson-Reuters apontou o Paquistão como o terceiro país mais perigoso do mundo para uma mulher. Dos cinco que encabeçam a lista, três são de cultura predominantemente muçulmana — Afeganistão em primeiro e Somália em quinto. A violência e o machismo institucionalizado no país fizeram Hera agir. “Eu tinha acabado de ajudar uma amiga a escapar de um relacionamento abusivo. Acompanhei várias fases do processo, o perigo físico, a rejeição da família, o assédio do parceiro, o envolvimento da polícia. Quando o processo terminou, resolvi colocar as informações on-line”.
O site da ONG oferece informações sobre como identificar abusos e o que fazer em situações de risco. Além do apoio às vítimas, reúne depoimentos de mulheres que se libertaram de parceiros violentos. Por meio do site, mulheres podem pedir ajuda a dezenas de voluntários que oferecem orientação. Todo o conteúdo é colaborativo e alimentado por psicólogos, advogados, ativistas, estudantes e empreendedores de várias partes do mundo. No topo direito, um botão de “Esconda esta página” protege o conteúdo do site de olhos indesejados.

"As mulheres muçulmanas estão determinadas a criar um presente, uma história, que não seja contada pelos homens" - Hera Hussain (Foto: Divulgação)
QUEBRANDO TABUS
Nascida na Arábia Saudita, Kiran Farooque passou a maior parte da infância no país até se mudar para o Paquistão. Mudou-se depois com a família para Dubai, onde permaneceu até a época da faculdade, cursada em Londres. Criada no Islã, ela se considera uma muçulmana moderna, com costumes adaptados a seu ritmo de vida. “Ser uma muçulmana moderna ainda é uma coisa muito indefinida. Ao mesmo tempo em que existem pessoas que te apoiam e reverenciam pelas atitudes progressistas, existem aqueles que condenam veementemente”.
Relações públicas de uma multinacional, Farooque tem perfis nas redes sociais. No Instagram e no Facebook, divide o dia a dia, a vida de solteira, projetos profissionais e a realidade cosmopolita. Também é blogueira de moda e aspirante a fashionista, comentando tendências e quebrando o estereótipo de que o Islã é sinônimo de burca. O perfil no Quora, uma comunidade de perguntas e respostas, serve para buscar conhecimento e compartilhar experiências.
Mas Farooque peneira o que posta por causa dos amigos e familiares mais conservadores? “Não. No começo, alguns parentes e amigos mais conservadores comentaram com meus pais que a minha realidade não refletia a nossa religião, mas eu assumo a pessoa que sou completamente”, diz. “Respeito meus pais, minha religião, mas não me comporto de forma diferente ou deixei de adicionar pessoas com medo de represália.”
AMOR E INTERNET
Sites de namoro são uma questão polêmica para as muçulmanas. Portais exclusivos como o Qiran.com, que tem um milhão de membros, Muslima.com e SingleMuslim são populares entre os jovens em busca de relacionamentos, mas Akilah Shabazz (o nome é fictício, pois ela teme represálias) diz que a ideia é mais conservadora do que parece. “Estes são sites de casamento. Não existe ‘ficar’ ou namoro sem compromisso para um muçulmano tradicional”, critica.
Shabazz, que apesar de não praticante se considera muçulmana e crente em Alá, vê a religião como algo maior do que a doutrina. Assim como qualquer outra jovem, ela encontra-se em fase de experimentação. Consome bebidas alcoólicas, proibidas pelos líderes religiosos mais radicais, por achar que faz parte do convívio social e, contrária aos sites de namoro exclusivos para islâmicos, tem perfis em portais comuns e populares entre os ocidentais, como OK Cupid.
“Como é que eu vou me comprometer a passar o resto da minha vida com alguém com quem eu nunca fiz sexo? E se não tiver química?”, diz. “Eu acho sexo importante, uma coisa bonita dentro de um relacionamento, que não precisa ser reprimida, e não encontro pessoas com esse tipo de pensamento dentro da comunidade ou sites de relacionamento islâmicos”.
A repressão, acusa, às vezes é tão grande que conduz aos excessos: “Quando começamos a beber, bebíamos demais, de forma errada, porque não tínhamos referências de uma relação saudável com o álcool, por exemplo”.

"Mulheres muçulmanas querem ser reconhecidas só como mulheres. elas querem ser vistas de forma completa, e não apenas como alguém que usa o véu" - Sanam Ansari (Foto: Divulgação)
AMINA, A REBELDE
Uma personagem que deu o que falar foi Amina Sboui, também conhecida como Amina Tyler. Em um ato contra a repressão às mulheres muçulmanas, a tunisiana de 19 anos publicou no Facebook em 2012 duas fotos em que aparecia fazendo topless com as frases “Foda-se a moral” e “O meu corpo me pertence e não é fonte da honra de ninguém” escritas em seus seios.
As imagens se propagaram rapidamente e, em entrevista a um jornal local, ela declarou que queria fazer ouvir a voz das mulheres de seu país protestando contra a repressão. Hackers invadiram a página do Femen (grupo feminista extremista famoso pelos protestos feitos com nudez) no Facebook, trocando fotos dos protestos por textos religiosos. Líderes muçulmanos da Tunísia e de outros países pediam que Amina fosse condenada ao apedrejamento ou chibatadas.
Diante das ameaças de morte, sua família tentou escondê-la e até internou a jovem em um hospital psiquiátrico. Amina também tentou deixar a Tunísia, mas, sem conseguir, voltou à militância. Durante um protesto do lado de fora de uma mesquita na cidade de Kaiouran, ela foi presa ao pichar o nome do grupo Femen em um muro. Acabou encarcerada por três meses.
Em apoio à militante e pedindo sua libertação, o Femen organizou em 2013 o “Dia Internacional do Jihad de topless”. Feministas ao redor do mundo tiraram suas blusas como uma forma de protesto contra a prisão. Foi quando milhares de muçulmanas também reagiram usando a internet para condenar a ação do grupo e renegar a tentativa de “salvá-las”. A própria Amina Tyler surpreendeu a todos ao ficar do lado dos críticos na saída da prisão e se desligar do grupo, acusando-o de islamofóbico.
A REAÇÃO CONSERVADORA
Ao mesmo tempo em que algumas muçulmanas buscam na internet a independência, outras se conectam para reforçar os ideais islâmicos. Praticante da vertente sufista do Islã, calcada no conceito de um Deus baseado no amor, Haniffa Ithnin usa a rede para se aprofundar na crença. Nascida e criada em Singapura, ela vê a internet como uma ferramenta para unir pessoas com ideais comuns e entender mais sobre a religião. “A internet ajuda a me conectar com pessoas que tenham interesses como os meus”, diz.
O Dia Mundial do Hijab, em 1º de fevereiro, ganhou força graças à internet. Organizado pela ativista Nazma Khan, que diz ter sido preseguida por usar o véu muçulmano — o hijab — numa escola de Nova York, o evento anual estimula desde 2011 o orgulho das mulheres com a vestimenta e enfrenta as críticas das feministas. Durante a data, muçulmanas de vários países convidaram as não muçulmanas e mesmo aquelas que praticam a religião e optam por não cobrir a cabeça a passar um dia usando o hijab — uma forma, segundo elas, de se vestir modestamente em público e ser considerada por quem realmente é e não apenas pela aparência.
“A mulher muçulmana moderna quer mesmo é não ser classificada, ser vista como a ‘outra’. O que isso significa é que ela quer ser vista de forma completa e não apenas como a esposa, como quem usa um véu”, explica Sanam Ansari, muçulmana praticante, casada, mãe, empresária do ramo de e-commerce e âncora de programas de TV em Dubai.
Ela critica a maneira como as muçulmanas são geralmente retratadas. “Se você digita mulher muçulmana no Google o que mais vê são imagens estereotipadas de mulheres de burca, em um cenário de guerra ou machucadas, com hematomas, vítimas de violência doméstica”, reclama. “O que não é mostrado são aquelas de terno, mesmo que com a cabeça coberta por escolha própria, ou as antenadas nas últimas tendências da moda, com maquiagem imaculada, mulheres admirando uma obra de arte, dando aulas, promovendo arte de rua ou fechando negócios”.
Nida Khawaja, artista, empresária e muçulmana praticante de origem paquistanesa, mas nascida e criada nos Estados Unidos, tem visão parecida e defende que, por maiores que sejam as diferenças religiosas, as mulheres ocidentais e muçulmanas hoje são essencialmente iguais. “Não somos mais oprimidas dentro de nossas vestimentas do que qualquer outra pessoa que, por exemplo, viva sem elas”.