
Na noite de 11 de abril de 2016, Suzi Ronson subiu ao púlpito de uma igreja protestante de Londres, a Union Chapel, e contou para uma multidão de quase 2 mil pessoas como ela ajudara David Bowie (1947-2016) a se transformar em Ziggy Stardust, o alienígena que veio salvar o planeta Terra, mas foi salvo pelo rock and roll. No começo dos anos 1970, Ronson trabalhava num salão de beleza nos arredores de Londres. Um dia, foi à mansão de Bowie para cortar e tingir de vermelho a farta cabeleira loira que ele ostentava à época. “Aquele foi um momento decisivo para David”, disse Ronson em entrevista a ÉPOCA. “Ziggy Stardust nasceu daquele corte de cabelo. Foi ali que ele completou sua transição de um cantor folk para um roqueiro de cabelo vermelho.”
A história de como Ronson ajudou no parto de Ziggy Stardust decerto renderia uma bela crônica jornalística, um alentado perfil num suplemento dominical ou numa revista, com fotos de arquivo, aspas de pessoas próximas dela e de Bowie à época e comentários de acadêmicos sobre o impacto cultural do novo penteado do roqueiro camaleônico. No entanto, em vez de conceder uma entrevista que depois se transformaria num texto nas mãos de um repórter, Ronson preferiu contar ela própria sua história ao público. A seu modo, o que ela fez naquela igreja londrina foi um tipo de jornalismo – jornalismo ao vivo ou “live journalism”, um gênero em ascensão que combina técnicas de apuração jornalística, performance teatral e storytelling (contação de histórias).
>> The Post – A guerra secreta reforça a nostalgia pelo bom e velho jornalismo investigativo
Os eventos de live journalism têm se multiplicado pelos Estados Unidos e pela Europa graças a iniciativas como The Moth e Pop-Up Magazine (EUA) e Live Magazine (França). Nesses eventos, pessoas sobem ao palco para contar suas histórias sem a mediação de um jornalista. Ronson contou sua história num evento do Moth, uma organização sem fins lucrativos fundada pelo escritor George Dawes Green em 1997, em Nova York. Green desejava recriar as noites de sua infância, no sul dos Estados Unidos, quando os vizinhos se reuniam na varanda para jogar cartas, tomar um trago, ouvir e contar histórias. As poucas luzes acesas atraíam mariposas para a conversa – o termo inglês “moth” significa “mariposa”. The Moth costuma lotar teatros nos Estados Unidos e em outros países – o público é atraído pelas histórias como as mariposas pela luz. Cada noite de contação de histórias tem um tema diferente (“voltar para casa”, “na natureza selvagem”). Há um punhado de apresentações por noite e cada uma delas costuma durar entre cinco e 12 minutos. Quem está no palco se esforça para driblar o nervosismo e contar sua história com naturalidade – como se estivesse numa varanda. É proibido recorrer a anotações ou a qualquer material de apoio.
Além das noites de contação de histórias, The Moth se desdobrou em um podcast e um programa de rádio (The Moth radio hour), transmitidos por mais de 200 emissoras espalhadas pelos Estados Unidos. As melhores histórias foram compiladas em dois livros: The Moth: 50 true stories (The Moth: 50 histórias verdadeiras) e All these wonders: true stories about facing the unknown, que acaba de ganhar edição brasileira com o título Tudo que é belo (Todavia, 384 páginas, R$ 59) e tradução de José Geraldo Couto. Tudo que é belo contém 45 transcrições de histórias contadas nos palcos do Moth, levemente editadas por Catherine Burns, diretora artística do grupo. As histórias são ora cômicas, ora comoventes. Os temas variam entre o assombro diante do desconhecido e a superação de limites: uma pastora luterana tem uma crise de ansiedade numa viagem entre Belém e Jericó; uma moça perde a memória e não lembra mais que rompeu com o namorado; um pai vai visitar o assassino de sua filha na cadeia; uma astronauta faz reparos de última hora (e à distância) numa espaçonave a caminho de Plutão. E, é claro, ali no meio está a história de como Suzi Ronson ajudou a revolucionar o rock com uma tesoura e tinta vermelha.
>> Como Trump sequestrou os fatos e os travestiu de fake news
Antes de subir ao palco do Moth, uma história percorre um caminho parecido com o que costuma trilhar uma pauta jornalística, da apuração às páginas de um jornal ou uma revista – entrevistas, redação, edição. A equipe do Moth trabalha como um time de repórteres, sempre à caça de boas histórias e personagens notáveis. “Eu costumo entrevistar a pessoa por uma hora, ou várias horas. Às vezes, ao longo de meses ou anos”, contou Catherine Burns em entrevista a ÉPOCA. “Depois, eu mando para ela um esboço da história. Quando um estranho conta o que ouviu você narrar, é mais fácil acrescentar informações do que escrever um esboço você mesmo. Então, eu peço para eles me contarem a história toda em voz alta, em detalhes. Da primeira vez, leva uns 20 minutos. Nós passamos as semanas seguintes tentando diminuir esse tempo sem deixar de cobrir os pontos principais.” Suzi Ronson trabalhou com Meg Bowles, uma das produtoras do Moth, para dar forma a sua história. “No começo, era só uma história sobre quando eu cortei o cabelo de David Bowie”, afirmou Ronson. “Mas Meg me disse que isso podia ir além. Eu escrevia rascunhos e mandava para ela. Depois, ela me telefonava e eu tentava narrar sem olhar as anotações. Ela foi me mostrando como contar uma história.”

Uma das mais bem-sucedidas iniciativas de live journalism é a Pop-Up Magazine, uma revista americana fundada em 2009, em San Francisco, que dispensou o papel. As reportagens, resenhas e perfis são encenados ao vivo, em frente a plateias proibidas de fotografar ou filmar o que acontece no palco – não há qualquer registro digital desses eventos. A Pop-Up lota teatros pelos Estados Unidos e os ingressos costumam esgotar em menos de 30 minutos. O processo editorial da Pop-Up é quase igual ao de qualquer veículo jornalístico: apura-se a história, checam-se os fatos, edita-se o texto. Mas o caminho final é o palco, não a gráfica. As apresentações mimetizam a estrutura de uma revista de variedades: breves resenhas e perfis curtos são seguidos de reportagens aprofundadas – tudo transportado para o palco. As histórias são contadas por jornalistas e escritores com o auxílio de vídeos, infográficos e trilha sonora. Os recursos incrementam a experiência do espectador, que assiste à sequência de performances como quem folheia uma revista. As apresentações terminam com uma festa onde quem contou e quem assistiu às histórias podem conversar e trocar impressões. Em 2014, a Pop-Up lançou a California Sunday Magazine, uma revista mensal – e impressa – distribuída com alguns jornais importantes da Costa Oeste americana, como o Los Angeles Times e o San Francisco Chronicle.
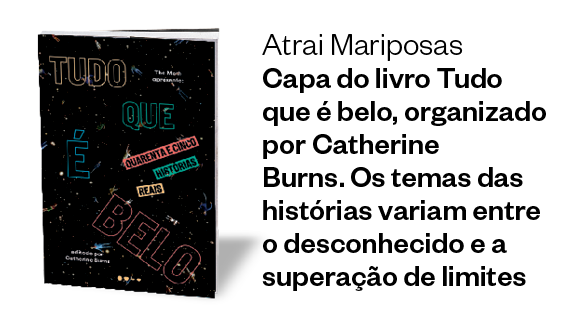
Mas quão jornalístico é o live journalism? A discussão sobre que barreiras o jornalismo pode ultrapassar e ainda manter sua pretensão de objetividade é notícia velha. Nos anos 1950, surgiu o “new journalism” (ou “jornalismo literário”), que incorporou técnicas literárias à reportagem. O live journalism vai ainda mais longe ao transformar a reportagem numa espécie de espetáculo teatral. “Jornalismo é um fenômeno fluido”, disse Barbie Zelizer, estudiosa da comunicação e professora da Universidade da Pensilvânia. “Live journalism não é o que tradicionalmente chamamos de jornalismo, mas serve para nos ajudar a entender o mundo ao nosso redor e a nos engajar nele. É importante abraçar o jornalismo em todas as suas formas.” O flerte com o mundo das artes performáticas (e o vasto mundo digital) permite encontrar o melhor meio para cada mensagem – há reportagens que não cabem no papel. “Uma história deve ser contada por meio da plataforma mais adequada para ela”, afirmou Lene Bech Sillesen, colaboradora da Columbia Journalism Review, revista especializada em discutir os dilemas da imprensa. “Talvez uma história seja mais bem contada por meio de uma apresentação de dança ou um ensaio fotográfico. Tudo é possível para o live journalism.”
>> O caso extraordinário do jornalista e do voyeur
Ao se apoiar em experiências pessoais, e não no texto frio de um repórter, o live journalism parece pecar contra um dos mandamentos mais antigos e reverenciados da imprensa: a objetividade. No entanto, com o declínio das publicações impressas e a explosão das redes sociais, a própria noção de objetividade, entendida como um distanciamento desapaixonado, mudou. O público consumidor de notícias e reportagens pela internet não quer mais ser um leitor passivo que compreende o mundo em parágrafos curtos e sem adjetivos, mas quer se engajar nas histórias, participar, reconhecer ali algo próximo de sua própria experiência. “O live journalism oferece experiências reais nas quais jornalistas e contadores de histórias se apresentam como pessoas reais e a plateia tem a experiência social, sente-se parte de uma comunidade”, disse Sillesen. “Live journalism é um desenvolvimento válido, pois alinha o jornalismo com a experiência real em vez de apresentá-lo como algo distante e excepcional”, afirmou Zelizer. Mais do que um fenômeno, o live journalism é uma tentativa ousada de responder a um desafio candente do jornalismo atual: engajar e inspirar leitores como um roqueiro de cabelo vermelho é capaz de atrair jovens que se sentem como alienígenas.




